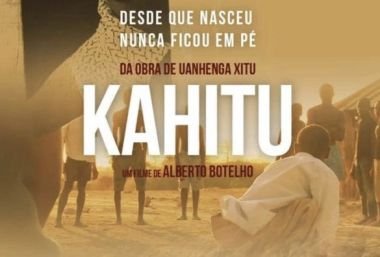Filipe Zau* |
Contrariamente ao que a pedagogia, a psicologia social e a intercultural recomendam, a história da Educação, que se confunde com a própria história do país, mostra-nos que a escola primária, em Angola, esteve sempre desassociada do contexto específico das crianças que a frequentam.
Contrariamente ao que a pedagogia, a psicologia social e a intercultural recomendam, a história da Educação, que se confunde com a própria história do país, mostra-nos que a escola primária, em Angola, esteve sempre desassociada do contexto específico das crianças que a frequentam. O princípio da unicidade e a imposição de valores estranhos ao seu modus vivendi, elimina, logo à nascença, a relação que deve existir entre Escola/Família, entre Escola/Comunidade e entre Educação/Cultura.
Só no primeiro quartel do século XX, a administração portuguesa foi capaz de se estender a todo o território angolano e, contrariamente ao discurso político, não houve, simultaneamente, cinco séculos de presença portuguesa, nem cinco séculos de exploração colonial em todo o território. Consequentemente, com a excepção do litoral, também não houve, cinco séculos de presença da língua portuguesa em toda a colónia. A resistência que, no passado, as populações africanas encetaram contra a ocupação dos seus reinos deverá ser entendida, não só, no plano militar, mas, também, cultural.
De meados do século XVI ao início do século XIX, a população de origem europeia em Angola, vivia, praticamente, no litoral, não ultrapassava as duas mil pessoas e as grandes fortunas e ostentações provinham do tráfico de escravos para o Brasil. Em 10 de Dezembro de 1836, quando este comércio se tornou ilícito, a aposta na agricultura no interior passou a ser opção para um maior número de colonos.
Em 1845, foi decretado, apenas nas cidades de Luanda e de Benguela, o ensino oficial em Angola, tornando-se possível verificar a presença de crianças mestiças e até mesmo negras nas escolas de ler, escrever e contar. Daí que, por volta de 1870, tivesse emergido uma elite de intelectuais angolanos associada à actividade literária e jornalística proveniente de uma camada social urbana, em grande parte composta por mestiços, poucos negros e apenas alguns brancos já nascidos em Angola.
Em 1869, dá-se a fusão dos reinos do Ndongo e de Benguela, bem como a abolição imediata da escravatura em todas as possessões portuguesas. Contudo, a escravatura interna transformou-se no chamado “contrato”, um tipo de trabalho forçado, que, sob o artifício jurídico da “vagabundagem”, obrigava os africanos a trabalharem, tanto para a administração, como para as grandes e médias empresas privadas portuguesas ou estrangeiras, ou, então, simplesmente como empregados domésticos.
O período de assimilacionismo
Após a Constituição de 1933 e a instauração do regime ditatorial do Estado Novo, foi aplicado, em três colónias africanas portuguesas (Angola, Guiné e Moçambique), o princípio do assimilacionismo como forma de ascensão social. Para que oficialmente um negro ou mestiço fosse reconhecido como assimilado (não indígena) e pudesse atingir o mesmo status legal que um branco europeu, tinha de reunir como condições: ter 18 anos de idade, demonstrar que sabia ler, escrever e falar português com alguma fluência, ser trabalhador assalariado, comer, vestir e ter a mesma religião que os portugueses, manter um padrão de vida e de costumes semelhante ao estilo de vida europeu e não ter cadastro na polícia.
Através do número real de assimilados em Angola, por altura dos censos de 1940 e 1950 – os únicos que dividiam a população em duas categorias (“civilizados” e “não civilizados”) – torna-se possível inferir quanto ao número de angolanos que, naquela altura, tinha o domínio da língua portuguesa. Em 1940, havia um total de 3.665.829 africanos (entenda-se pelo contexto dos documentos consultados, que estes africanos são tão somente os negros) 28.035 mestiços e 44.083 brancos. Apenas 0,7% dos negros e 82% dos mestiços eram considerados “civilizados”. Em 1950, dez anos depois, continuava a haver 0,7% de negros e já 88,8% de mestiços considerados “civilizados”. Estas percentagens correspondiam a um total de 30.089 negros e 26.335 mestiços. O índice de analfabetismo dos negros, com idade superior aos 15 anos, situava-se nos 97%. Christine Messiant refere, em cada ano, a existência de um total de 700 mil trabalhadores africanos, que, na década de 50, trabalhavam ainda no contrato, não havendo, portanto, preocupações com a sua escolarização.
Em 1952, havia apenas 37 indivíduos com o curso liceal completo em toda a colónia, a maior parte dos quais eram de origem europeia. Comparando com outras colónias africanas não portuguesas, Angola, tinha, em 1952, apenas 14.898 alunos no ensino primário, dois terços dos quais de origem europeia. O Ghana, de colonização inglesa, tinha, nesse mesmo ano, 418.898 alunos negros matriculados na escola primária e o ex-Zaire, de colonização belga, 943.494.
Só em 1961, com o começo da guerra colonial, o governo português procurou criar em todo o território uma maior rede de estabelecimentos escolares e promover a língua e a cultura portuguesa para um maior número de angolanos. A 6 de Setembro de 1961 foi abolida a Lei do Indigenato, quando Adriano Moreira foi ministro do Ultramar. Só a partir desta data os negros deixaram oficialmente de estar divididos em duas categorias: assimilados e indígenas. Apesar do esforço de última hora levado a cabo pela administração portuguesa, as repercussões ao nível da escolarização primária não se tornavam imediatamente visíveis, embora tenham melhorado significativamente. Chegamos a 1973, com um total de 512.942 alunos em todo o ensino primário, onde a terça parte dessas crianças era portuguesa.
Este foi o resultado da “grande missão civilizadora” levada a cabo pela administração colonial portuguesa em terras de além-mar, que, mesmo ao nível do discurso político, dificulta a aceitação pacífica do conceito de “lusofonia”, como resultado dos laços de fraternidade, desde sempre existentes entre lusos e africanos, todos eles incluídos em uma mesma estatística de falantes de língua portuguesa.
Língua de escolaridade
Em 1986, onze anos decorridos após a independência de Angola, foi feito, pelo Ministério da Educação, um diagnóstico sobre a eficiência do seu ensino de base. Ao nível das quatro primeiras classes da instrução primária chegou-se à seguinte conclusão: Em cada 1.000 crianças que ingressava no primeiro ano de escolaridade, somente 142 concluíam o ensino primário, das quais, 34 transitavam sem qualquer repetição, 43 com uma, e 65 com duas ou três repetições. Ao se analisar as razões que levam a que pouco mais de trinta crianças em cada mil, normalmente, não reprovavam, constatou-se que as mesmas viviam, maioritariamente, em áreas urbanas, onde o idioma de comunicação privilegiado é a língua portuguesa.
Na realidade, o primeiro sistema educativo angolano foi concebido, partindo da convicção de que todas as crianças angolanas dominam tão bem a língua portuguesa como qualquer outra língua materna africana. Mas, na prática, tal pressuposto veio a revelar-se como sendo falso. Se a comunicação é deficiente a aprendizagem não poder ser a mais adequada, sobretudo, quando a maioria dos professores primários também apresentam sérias dificuldades no domínio da língua de escolarização. Daí que se impunha a necessidade de se criar, para as primeiras classes, uma filosofia de aprendizagem que configure a introdução das línguas africanas no sistema de Educação, como forma de se criar uma estreita relação entre Educação/Cultura/Desenvolvimento. Se a escola for entendida como um espaço de socialização, tudo o que nela se ensina só têm valor, se o que nela se aprende estiver adaptado às circunstâncias do meio e aos problemas reais e quotidianos das suas populações.
* Ph. D em Ciências da Educação
e Mestre em Relações Interculturais